A PÁGINA DE ÂNGELO NOVO |
|---|
|
Crónicas e bagatelas |
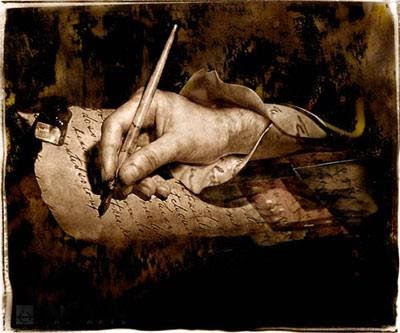 |
|
João José Cochofel, poeta
A memória dos homens percorre sulcos gravados no tempo. Traz consigo a circustância e a perenidade, o rigor ardente da luta partilhada e a inscrição de uma verdade na relação das coisas. Deduzida a morte, sobra sempre a razão de uma presença completa e a história que lhe revela o trajecto de sinais em que se encerra... e prossegue.
João José Cochofel - fundador e grande dinamizador de Vértice - deixa o seu nome profundamente ligado à renovação da cultura portuguesa no que ela significa de empenhamento social e político, de busca de uma identidade colectiva redefinida, de militância cívica e afirmação ideológica. Deixa também uma obra inestimável e multímoda nos campos da poesia, da divulgação musical, da crítica e teoria estética, da defesa do património cultural.
Talvez que o poeta nos revele ainda uma dimensão humana toda outra. Uma particular crispação no gesto, uma incontida cintilação de desejos murmurados, um encontro prometido. Ou era o recorte dos instantes à medida de um sonho, de um princípio de organização das referências balanceado mimicamente no acariciar das formas revisitadas. A razão geométrica da esperança.
Vértice nao sabe chorar os companheiros desaparecidos.
Não sei falar de mim, nem já de ti, amor, cingidos na prisão dos anos desesperados. Coração assolado, foi em mágoa e dor que sepultou os tempos .fartos e alados.
Rosas de carne, sol e vinho dos sentidos, tombaram fenecidas cedo de meus dedos. Em chão de mortos te entreguei o pão dos feridos, esconjuro de fomes, armas, fauces, medos.
Mas quando se acabar a sina do desprezo, ressurgidos enfim do mundo dos espectros, as refloridas rosas nos coroarão de novo.
Volveremos, então só, amantes completos e, anónimos sorrindo na boca do povo, os versos te darei dum coração aceso. (1)
Que idade tem o homem? Que larvar desterro se entretece dos seus passos inconclusos? Que sinais se rasgam a vertigem da liberdade?
Por breve se desfaz a imagem imponderável dos silêncios suspensos, dos gestos retalhados - as pequenas memórias repisadas de solidão. Mas permanece a norneação daqueles lugares de toda a origem.
No refúgio íntimo do poeta se lavraram as palavras, cheias e reais. Para acender pelos extremos os instantes da demora.
1. latitudes iniciais
Perigos e facilidades várias se insinuam a quem se debruça sobre uma obra poética tão multiforme e dilacerada - como várias e antitéticas são as solicitaçöcs que nela se digladiam - tal a de João José Cochofel. O primeiro é a tentação militante de a ler exclusivamente referenciada ao clima ideológico que enformou a primeira vaga do neo-realismo, sincopando as arestas mais discrepantes ou assimilando organicamente manifestações claramente desconformes com o espírito e a tonalidade discursiva típica da escola. Outro será o de ver nela um puro fluir de sensações irreflexamente pessoais, alheio a qualquer preocupação de ordem social ou caracterizadamente céptico quanto à sua função comunicadora tendente a uma afirmação de solidariedade.
As referências simbólicas da geraeão de J. J. Cochofel são, inequivocamente, as daquele «tempo de des-graça» situado «entre Guernica e Hiroxima» de que fala Eduardo Lourenço (2). Época sombria, de presságios carregados do chumbo das armas e das marchas fascistas. Em Portugal estiolava o desejo e a alteridade, comprimida e recalcada pela ditadura, uma ameaça de silêncios a esconjurar os perigos da dissolução.
Contra a vivida miséria de uma nação abaulada nos porões do ostracismo ergueu-se uma juventude pletórica do esforço de superar-se, em arremetidas de audácia e viril generosidade. Quando em 1937, aos 18 anos, J. J. Cochofel publicou ‘Instantes’, não estavam ainda lançados os definitivos sinais da revolução neo-realista na poesia (3). Revela-se aí um poeta de um lirismo delicado e intimista, alheio aos grandes transportes de energia e ardor combativo que se adivinhavam já nos escritos dos seus companheiros:
Para mim - ficará a delicadeza dos instantes que fogem
Senão mesmo particularmente predisposto para o abandono contemplativo e extasiado:
Porque não? ficar assim eternamente a vê-las dançar e a sonhar coisas vagas
Tudo isto aliado a um profundo apego ao real e vivido (sentido), permitirá a Gastão Cruz qualificar a fase inicial do itinerário poético de J. J. Cochofel como «um conjunto de notas sobre a realidade, sentimentalmente integradas» (4). Com ‘Búzio’ (1939) sucedem-se as descobertas amorosas e a confirmação de um por vezes agudo sensualismo, entremeado pelos percursos oníricos de uma apurada sensibilidade.
2. perspectiva recoberta
Com ‘Sol de Agosto’ (1941) e ‘Os dias íntimos’ (1950) opera-se uma sensível viragem de sentido, ao encontro de uma mais decidida intervenção concretamente dirigida. Todavia, o poeta fala de si (e da sua circunstância subjectivamente mediatizada). Nunca J. J. Cochofel cedeu à tentação - infelizmente comum em certo neo-realismo - de objectivar o seu discurso poético, inscrevendo-o metonimicamente no real como um qualquer «canto da terra» ou outras imanências de tão falaciosa construção. De resto, o seu texto sempre se pautou pela discrição e pela continência retórica, evitando o desgaste de uma projecção nos limites da voz, a qual teria já dificuldade em controlar e resolver com autenticidade:
Hornem que sou no cárcere que é o nosso, sei o que dou - dou o sangue que posso.
Está entretanto fora de causa que a sua poesia traduz um compromisso, um prograrna a ser assumido como aventura colectiva, assim sendo que «o eu de Cochofel é já tanjente a um nós» como quer Alexandre Pinheiro Torres (5). A medida deste compromisso atinge mesmo o militantismo, como em certos poemas de ‘Os dias íntimos’ na edição de 1950:
Homem virado ao futuro que outros desenham com o corpo a balas num muro
Mas, no mesmo poema:
- Que sede de espera me queima por dentro sem poder abrir bandeiras ao vento? Que choro me invade de amargura?
Nao do que perdi, mas desta secura.
A alternância entre esperança e desepero, ou entre o ardor da solidariedade e o refúgio na medida clausura da intimidade são momentos constantes nesta poesia. Uma perspectiva recoberta, sinal seguro das «contradições dialécticas (...) de um poeta de nervos outonais, enamorado da serenidade nostálgica, de solidões delicadas, mas não menos fiel a um projecto de vida colectiva, que, falhado, inquina de angústia os seus próprios momentos de felicidade» (6).
3. ensaio da fala
Após uma edição remodelada de ‘Os dias íntimos’ em 1959 (7), o percurso poético de J. J. Cochofel prossegue com ‘Quatro andamentos’ (1964), ‘Emigrante Clandestino’ (1965), ‘Uma rosa no tempo’ (1969) e ‘Água elementar’ (1975). Representar a fala liberta dos estigmas da necessidade foi o projecto da maturidade do autor, reunido no volume ‘O bispo de pedra’ (1975).
«Mesmo em frente da velha casa onde nasci, em Coimbra, ao alto da fachada do Colégio Novo, um nicho abriga uma escultura do séc. XVII, representando Santo Agostinho, de mitra e. báculo, e um livro aberto na mão esquerda. O «bispo de pedra» existe portanto na realidade. E a mais antiga recordação de infância que dele tenho é um nevoeiro de temor e de respeito. Daí tê-lo convertido agora, meio consciente, meio inconscientemente, num mito ou num símbolo plurivalente em que entra muita coisa díspar e antagónica: autoritarismo, conformismo, preconceito, banalidade, passadismo, mas também amiga presença familiar, solicitude protectora, segurança, tranquilidade, nem eu sei bem: tudo isso de que, por acção reflexa de oposições e atracções afectivas e intelectuais, se vai formando uma personalidade e uma consciência» (8).
Eduardo Lourenço: «Onde está o módulo da existência transparente e não-contraditória, o metro-padrão que nos permite medir com celestial perfeição a «contradição» alheia? Quando muito podemos invocar essa existência plena, esse ponto ómega em que teoria e prática se beijam na boca como um ideal à maneira de Kant, mas sabendo e conhecendo-o como ideal. Mas qual pode ser enfim o papel crítico de um tal conceito? Nulo, pois ninguém como o poeta promove essa tal contradição e é na luz dele que nós a vemos» (9).
O real é múltiplo nas suas marcas, as faces indemnes às provocações e emboscadas de novos sortilégios da captura. João José Cochofel esventrou metáforas sacudidas, em penosos sacrifícios ao altar de uma qualquer síntese óbvia (ou redentora) - deu-nos a vida, palpitante e vulnerável, lá onde ela tanje o momento inefável da opção.
Publicado na revista ‘Vértice’, nº 446 (Janeiro-Fevereiro) e nº 447 (Março-Abril) de 1982.
______________ NOTAS:
(1) Este poema, intitulado Transmutação, aparece incluído em ‘Os dias íntimos’, Coimbra, 1950, tendo sido preterido na 2.ª edição desta obra em 1959, bem como na colectânea ‘46.º aniversário’ de 1966. Dele escreveu Eduardo Lourenço: «Poucos poemas como este resumem tão bem o que foi a mitologia neo-realista num dado momento histórico. Poesia como protesto, esperança suspensa, amor como refúgio e futuro arco de aliança, tudo aqui está» - João José Cochofel ou a poesia da imanência, em ‘Sentido e forma da poesia neo-realista’, Ulisseia, 1966, p. 69. É este o mais exaustivo e rigoroso estudo que conheço da obra poética de J. J. Cochofel. Para aí remeto quem esperava encontrar nestas páginas algum ressaibo de análise literária.
(2) Ob. cit., pág. 32.
(3) Estes viriam a manifestar-se, como é sabido, com a colecção O Novo Cancioneiro, de que o primeiro volume saído será ‘Terra’ de Fernando Namora (1941) e na qual J. J. Cochofel virá a participar, nesse mesmo ano, com ‘Sol de Agosto’.
(4) Crítica a ‘46.º aniversário’ no Diário de Lisboa de 1 de Setembro de 1966.
(5) A poesia de João José Cochofel ou: o intimismo e o concreto são incompatíveis?, em ‘Poesia, programa para o concreto’, Ulisseia, 1966, pág. 91.
(6) Urbano Tavares Rodrigues, A poesia de João José Cochofel, prefácio a «46.° aniversário», Portugália, 1966, pág. XV.
(7) A 2.ª. edição de ‘Os dias íntimos’ é profundamente diferente da de 1950. São sacrificadas 11 poesias, entrando 12 poesias novas para o seu lugar. A. Pinheiro Torres, ob. cit., pág. 94, explica estas modificações por uma razão de unidade estética. Sendo certo que as poesias retiradas são precisamente «as que revestem de ardor combativo, de apelo directo ou mais directo à acção, poemas de exterior», conclui este autor que «Cochofel teve consciência nítida que falhara, esteticamente, a sua cartada no extropectivismo».
(8) Excerto de uma entrevista dada a U. Tavares Rodrigues para a página literária de O Século de 5 de Março de 1966, reproduzido à laia de exórdio no volume ‘O bispo de pedra’, Iniciativas Editoriais, 1975.
(9) Ob. cit., págs. 54-55.
Henrique Alves Costa
Uma cidade como o Porto, com as suas memórias fundamente talhadas, com uma individualização fortemente vincada nas suas pedras e nos seus rostos, é um espaço privilegiado para um diálogo, sempre renovado, entre tradição e modernidade. Episódios maiores da história económica, social e cultural do país aqui foram sediados, protagonizados por grandes massas ou por reduzidas vanguardas, no fragor das grandes celebrações colectivas ou, em trabalho pioneiro, remando pacientemente contra o espanto, a murmuração dos poderes, o gracejo boçal do seu burguês de suíças largas, colete e corrente a preceito.
Assim foi com o dealbar e infância do cinema em Portugal. Com Paz dos Reis e o seu kinetógrafo, com o salão de cinema High-Life de Neves & Pascaud, com as produtoras Invicta Film e de Raul de Caldevilla, com Alberto Armando Pereira e um punhado de revistas pioneiras na especialidade, com o Cine-Clube do Porto. A partir de certa altura, nesta senda de aventureirismo que foi sempre a luta pela afirmação de uma cinematografia nacional completa e adulta, surge uma figura que jamais deixará de ocupar, a diversos títulos, um lugar de primeiro plano. Durante sessenta anos.
Henrique Alves Costa (n. 1910) lembra-se de ir, pela mão de seu pai, assistir às suas primeiras fitas no então Salão-Jardim Passos Manuel. Decorria a guerra, viu «Charlot nas trincheiras». Viu também «Fantomas» e «Roccambole», muitas cavalgadas no oeste americano, Pearl White nos «Mistérios de Nova lorque», Pola Negri e Lucille Love. Adolescente ainda, escreveu uma carta ao director de um jornal diario portuense, por discordar da crítica a um filme aí publicada... Uma bibliografia sua contaria hoje centenas e centenas de itens, sendo virtualmente impossivel de estabelecer com rigor. Alves Costa colabora ainda regularmente na imprensa, é director de uma revista de cinema e prepara a publicação de um livro sobre os antecedentes próximos do cinema.
Sem conta ficam também as suas realizações, ou aquelas que ele acompanhou de perto, com a sua palavra certa na altura apropriada, o seu peculiar e incansável toque-para-diante que, com o ar dos anos e de algumas desilusões, não perdeu nada do seu original optimismo, antes ganhou uma espécie de requinte malicioso, um excedente de ironia e savoir faire para um velho lutador que, de si, nunca foi um homem angustiado.
Em 1947, Alves Costa - com Manuel de Azevedo e Luís Neves Real, aos quais se juntaria depois Mário Bonito - entra para a direcção de um pequeno clube cinematográfico de estudantes. Sairá doze anos depois, quando este era já uma grande estrutura associativa e desbravara o caminho para a irrupção e maturidade do cineclubismo português.
Quando a actual direcção do Cineclube do Porto decidiu promover uma homenagem a Alves Costa não o fez, todavia, para obedecer a uma convenção de reconhecimento pelos seus maiores, ou a esse mero ritual do nacional-comemorativismo, onde a genuína homenagem tantas vezes se confunde com a auto-promoção, indo nesta inclusa a detracção alheia. Temos mais que fazer e, felizmente, o homenageado também, pois está bem vivo e recomenda-se.
O que se passa é que é preciso fazer justiça quando não há a certeza de que esta se venha a impôr por sua própria evidência.
Alves Costa é uma personalidade marcante na cultura portuguesa deste século. Mas isto, porventura, apenas os seus contemporâneos o saberão, pois ele é basicamente um impulsionador, um insinuador de ideias e projectos, um insuflador de confiança o optimismo, um grande divulgador e promotor de cultura. Jamais se preocupando em impor o seu nome, é normal vê-lo afastar-se assim que uma obra sua mostra sinais de consolidação. Sempre esteve mais à vontade a encarregar-se das coisas que a desempenhar os cargos e, ao certo, apenas se sabe que, sem ele, tudo teria sido diferente.
Fazer um primeiro balanço da sua acção era, pois, o propósito deste número da revista Cineclube. Propósito este, há que dizê-lo, pacialmente frustrado. Em primeiro lugar porque nos faltaram relatos de importantes campos de actividade em que o homenageado se distingiu, nomeadamente, a divulgação da cinematografia portuguesa no estrangeiro, as relações luso-espanholas, o cinema de amadores, a pedagogia artística, etc.. Em segundo lugar porque os testemunhos directos aqui publicados nem sempre se revelam muito esclarecedores, à míngua de documentos e outras certezas mensuráveis, preferindo por vezes o preito admirador ao estudo rigoroso.
Cremos que a grandeza de Alves Costa reside sobretudo no facto de se ter mantido um homem sempre actual e actuante. Aderindo completamente ao seu tempo, sem reservas e sem ressentimentos de qualquer espécie, pôde ele dar-se inteiro à sua paixão de criar e comunicar. É esta uma qualidade pouco comum e, sem ser passível de imitação, não se ensina.
Não diremos, pois, que a acção de Alves Costa nos serve de exemplo. Diremos que valeu a pena ver, à sua passagem, as coisas tomarem um brilho e um sentido novos.
A par e passo
1910 Henrique Alves Costa nasceu, a 10 de Julho de 1910, no seio de uma família da pequena burguesia ilustrada portuense. Foi educado no melhor ambiente republicano da época. Com os exemplos vivos de seu pai e de seu avô, apreendeu a valorizar a auto-responsabliidade e integridade moral, isto sem qualquer espírito de severidade, antes cultivando o liberalismo e mais ampla abertura de espírito. Encorajado a satisfazer sempre sua curiosidade e a «pensar por sua própria cabeça», teve acesso irrestricto à rica biblioteca de sua casa. Leu muito, desde muito cedo: Os Miseráveis, Dom Quixote, A Ilha do Tesouro, Os Últimos Dias de Pompeia, Quo Vadis, Júlio Verne, claro, toda a obra camiliana, entre muitos outros. Assistia também livremente aos animados serões em que seu pai e os seus dois tios discutiam assuntos políticos, em posições extremadas e por vezes com grande calor, para se despedirem sempre afectuosamente numa fraternidade sem mácula.
1916 Por volta dos seis anos de idade começou a acompanhar seu pai com regularidade a sessões de cinema, das quais este era grande entusiasta. Frequentou o Salão-Jardim Trindade, próximo da casa de seus tios à Rua do Almada e, bem assim, o grande espaço cultural e recreativo da época, o polivalente Salão-Jardim de Passos Manuel, de que nos traça um magnífico retrato no seu livro «Os antepassados de alguns cinemas do Porto».
Estávamos ainda nos primórdios do cinema, numa altura em que este tinha há pouco deixado de ser um mero divertimento de feira, ao lado da mulher de barbas e de troupes de anões malabaristas, para se tornar numa grande indústria em avassaladora expansão. Os espectáculos não eram classificados etariamente, nem havia grandes preocupações «de autor», num campo de actividade então ainda largamente ignorado pela intelectualidade artística.
Durante anos a fio, Alves Costa viu de tudo: aventura, burlesco, fitas passionais italianas, os dramas nórdicos, os primeiros Charlot, etc., etc.. Vem a propósito citar aqui um seu contemporâneo e amigo, numa bela descrição que Ihe cabe também por inteiro:
«Na verdade, aconteceu que, por felicidade minha, pertenci, como infantil, à primeira geração dos espectadores de cinema, naquela fase em que este, após 1908, passo a passo, fita após fita, se ia constituindo como arte autónoma. (...)»
«O espaço reduzido da minha casa alargava-se ao Oeste americano, à Roma imperial, ao Bosque de Bolonha, à China, ao Japão longínquos. O tempo dilatava-se: assisti à destruição de Pompeia, arrasada pelas lavas do Vesúvio, às mortes de António o Cleópatra; e vivi momentos de ansiedade esperando que Pilatos desistisse da sua indiferença pela sorte de Jesus ou um milagre salvasse Joana d'Arc da morte injusta na fogueira. Tudo na mesma noite em que podia ver Rio Jim a agonizar, envolvido em luta heróica contra os peles-vermelhas, ou um bando de mascarados assaltar, à mão armada, um banco novaiorquino.»
«Deste modo, a história e a geografia, vestidas com os ouropéis sugestivos da aventura, iam entrando por mim dentro como sol através de vidraça. A literatura universal (...) transposta para imagens animadas ia deixando no meu espírito, com uma confusa mas rica e variada mensagem de ideias, o espectáculo de sentimentos, valores, relações e conflitos sociais os mais diversos (...); Joana d'Arc e Napoleão, Hamlet e Otelo, Conde de Montecristo e Nana, Margarida Gautier e Aramis, Enjolras e Valjean, Petrónio e Nero, Ulisses e Helena, Carmen e Fausto, Luís XVI e a Dubarry, baralhavam-se com o conde Hugo e Pearl White, Salustiano e Max Linder, Fatty e Mabel, Bertini e Maria Jacobini, Za-la-Mort e Za-la-Vie, Judex e Parisette, Polo e Lucille.» (in Luís Neves Real, Cartas abertas aos senhores deputados da Nação, ed. Cineclube do Porto, 1955).
A técnica e a linguagem cinematográficas da época construíam-se e evoluíam à vista de Alves Costa. Economização de meios para transmissão de uma mensagem; evolução da representação que se autonomiza completamente da escola teatral, etc.. A expressão cinematográfica, aperfeiçoando-se, dispensava já quase por completo os quadros de legendas. Com o advento do sonoro toda esta linha de evolução é bruscamente interrompida e, com um grande choque que provocou não poucas incompreensões, o cinema singraria por ainda mais largos caminhos que os da «arte do silêncio». A adesão de Alves Costa ao sonoro foi imediata, e rapidamente se tornaria incondicional.
Entretando, termina os seus estudos liceais e, por morte de seu pai, ingressa na carreira de despachante que ainda hoje exerce.
1928 Foi por volta dos seus dezoito anos que Alves Costa começa a colaborar na imprensa com apreciações de cinema. Fazia-o com cartas ao director, onde expunha discordâncias com algum comentário publicado sobre uma qualquer fita passada em sala da cidade. Tornou-se notado no jornal Espectáculo de Alberto Armando Pereira. Entra para a redacção da revista InvIcta-Cine, a convite de Roberto Lino, director e proprietário da revista, em Maio de 1930, tornando-se redactor-principal passados dois meses. Aí se manteria durante muito tempo, com Alves da Cunha, Soutinho de Oliveira e Novais Castro, entre outros, assinando crónicas e crítica de filmes semana a semana, assim contribuindo para a boa reputação desta revista, tida por combativa e bem informada. Colaboraria ainda na revista lisboeta Cine-Teatro (1930), antes de se fixar, nos anos de 1933-34, no «quinzenário cinematográfico» Movimento. Fundada e dirigida no Porto por Armando Vieira Pinto, esta revista averbava colaboração de quase todo o círculo presencista:Adolfo Casais Monteiro, José Régio, Vasco Rodrigues, Alberto Serpa, Rodrigues de Freitas, entre outros. Aí Alves Costa fará, sobretudo, crítica de filmes e, no seu n.º 12, lançará a ideia da criação de um cineclube, com larga exposição de propósitos e métodos tais como eles se virão a encontrar, quinze anos depois, nos estatutos do Cineclube do Porto, por ele inspirados (sobre todas estas publicações, ler Alves Costa, «Breve história da imprensa cinematográfica portuguesa», Cineclube do Porto, 1954).
1931 Foi em 1931 que Alves Costa, com poucos «cobres» e sequioso de receber gratuitamente algumas publicações estrangeiras, propôs colaboração à prestigiosa revista de cinema britânica Close-up. Aí faria o ponto da situação da cinematografia portuguesa e publicaria regularmente News from Portugal. Iniciou assim um frutuoso trabalho de colaboração com a imprensa estrangeira por via do qual o cinema português, de Leitão de Barros e Manoel de Oliveira, registou um primeiro movimento de interesse na Europa culta. Colaboraria ainda, nomeadamente, nas revistas Bianco e Nero (Roma), Elokuva (Finlândia) e La Cinematographie Française. Nas obras colectivas Filmlexicon degli Autori e delle Opere (Italia, 1958) e Lexicon des Intemationalen Films (Munique, 1975), bem como no Programa da Bienal de Veneza de 1976, prosseguiria o seu trabalho de divulgação da arte cinematografica e dos autores portugueses.
1935 Em 1935 foi o casamento com Maria Helena Vieira Pinto que seria, até à morte, sua companheira constante e sempre entusiasta. Teriam dois filhos. Por esta altura, Alves Costa é um jovem empregado e jornalista independente, frequentando os ambientes intelectualizados da baixa portuense e sempre disposto, com sua esposa, a alguma irreverência que, adequadamente, fustigasse a sonolenta burguesia da cidade e suas hipócritas noções de moralidade e decoro. Eram gente... do cinema. No Porto, fizeram parte da primeira vaga da inquietação modernista.
Entretanto, o regime salazarista consolida-se, acentuando a sua vigilância a espectáculos e publicações. Com o eclodir da guerra, os tempos são plúmbeos e sáfaros para o activismo cultural. Alves Costa colaborou, durante vários anos, com crítica de filmes e artigos de divulgação ou ensaísticos, nas revistas Vértice (regularmente a partir de 1948) e Sol Nascente do movimento cultural neo-realista, bem como noutras publicações. Desta época é também a sua colaboração regular nas páginas culturais de O Comércio do Porto, que viria a abandonar mais tarde por motivo de abusos censórios cometidos sobre os seus textos críticos sobre filmes, que tinha sido convidado a fazer à medida que se iam estreando nos cinemas do Porto.
1947 Na sequência de uma longa polémica ocorrida, anos antes, na revista Sol Nascente, Alves Costa teve um encontro, no café A Brasileira, com o crítico Manuel de Azevedo. Foi no ano de 1947 e, conversando sobre as condicionantes ao desenvolvimento do gosto pelo cinema em Portugal, Azevedo informa-o, de passagem, sobre a existência recente, no Porto, de um «Clube Português de Cinematografia», o que vai de encontro a uma sua ideia antiga. O pequeno clube era formado por um punhado de estudantes liceais entusiastas, de que se destacam Fernando Gonçalves Lavrador, Guilherme Ramos Pereira e os irmãos Vergílio Pereira, tendo promovido algumas sessões de cinema, palestras e mantendo um programa na rádio. Alves Costa e Manuel de Azevedo planeiam imediatamente a sua adesão e ajuda a esse grupo, juntamente com Luís Neves Real, com vista a propulsionar esta pequena estrutura. A associação legalmente criada, logo de seguida, com Estatutos aprovados pelo Governador Civil, tomará o nome de Cine-Clube do Porto.
Alves Costa é o grande entusiasta e animador deste projecto. O clube rapidamente atinge os 900 sócios (1949) e, depois, os 2.500 (1952). Promove centenas de sessões, em muitas das quais Alves Costa, incansável, fazia palestras introdutórias, ou escrevia os respectivos programas, numa missão de verdadeira pedagogia cinéfila. Editam-se os Cadernos do Cineclube, onde Alves Costa colaborará nos volumes «Modernas tendências do cinema europeu» (1948), «Charles Chaplin» (1950), «O Cinema e a criança» (1954) e «Aniki-Bóbó» (1963), sendo autor da ‘Breve história da imprensa cinematográfica portuguesa’ (1954) e de ‘Os 12 degraus na vida do Cineclube do Porto’ (1958).
1955 Em 1955, comemorando o seu décimo aniversário, o CCP promove, e Alves Costa participa, no 1.º Encontro dos Cineclubes portugueses, em Coimbra, que constitui o primeiro marco de maturidade de um movimento que, uns três anos antes, se iniciara, inspirado e apoiado directamente pelo exemplo portuense. Neste mesmo ano, Alves Costa participa nas Conversações Cinematográficas de Salamanca, onde apresenta DOURO, FAINA FLUVIAL de Manoel de Oliveira e toma a palavra pela primeira vez num importante areópago cinematográfico internacional. Em 1956, está na primeira linha de luta contra o Dec. 40572, que cria a Federação Portuguesa de Cineclubes sob a incómoda tutela e vigilância estadual. Prestou assistência pessoal a inúmeros cineclubes nascidos nesta época. Em 1959 participa - como colaborador «externo» e «conselheiro» sobre o Auto e a localidade onde se representa, a aldeia das Neves que Alves Costa conhecia muito bem - nas filmagens de O AUTO DE FLORIPES. É um filme colectivo da secção de Cinema Amador do Cineclube do Porto, modestamente subsidiado pelo Fundo do Cinema. Seria estreado em 1963.
Durante estes anos, o CCP tornou-se uma sólida associação cultural, com sede própria e um património assinalável, desenvolvendo uma imensa actividade. Foi então, em 1959, que Alves Costa resolveu abandonar a sua direcção, seguro de ter desempenhado o seu papel e pronto para mergulhar noutra aventura criadora. Entretanto, tinha detectado, e recuperado para o património nacional, importantes fitas que se julgavam perdidas, começando a germinar nele a ideia de uma cinemateca no Porto.
1963 O arquitecto Pulido Valente, e outros, tiveram a ideia de criar no Porto uma cooperativa de actividades artísticas. A iniciativa parecia algo extravagante nessa altura, mas assim mesmo seria prosseguida. Alves Costa é fundador com mais uma dezena de outros «sonhadores» - pintores e arquitectos - em 1963, da Árvore, em cuja direcção permaneceu por mais cinco anos, participando na construção e consolidação de uma associação que teve uma importância enorme na vida cultural da cidade e do país, hoje responsável pelo funcionamento de uma Academia artística de prestígio.
1967 Em 1967, Alves Costa é o impulsionador da histórica Semana do Cinema Português, promovida pelo Cineclube do Porto. Foi um acontecimento de grande vulto, um marco que divide a história do cinema português, inaugurando uma nova era. Aí, com efeito, uma nova geração de cineastas toma consciência de si própria e, em reflexão conjunta com a crítica e demais agentes envolvidos nesta aventura, parte (com a primeira ajuda da Gulbenkian ao cinema) em busca de um segundo fôlego para o cinema nacional. De referir que, para a realização deste encontro, foi necessário recorrer a vários expedientes de financiamento, com destaque para um leilão de obras oferecidas ao CCP por artistas plásticos da Árvore, de que Alves Costa era ainda director.
Em 1969, Alves Costa faz parte do Júri da Federação Internacional de Cineclubes na 1.ª Semana Cinematográfica dos Jovens Autores, em Benalmadena (Espanha), festival que, em edições posteriores, conhecerá uma ou outra confrontação ideológica.
1970 Em Outubro de 1970 participa, em Aveiro, no 1.º Encontro Nacional do Cinema Amador, área esta a que permanecerá ligado, participando, mais tarde, no Festival Intemacional do Filme Amador de Coimbra (FIFAC), bem como no Festival de Cinema Amador do Cineclube de Guimarães. Neste mesmo ano, em Dezembro, promovido pelo CCP e na sequência da Semana de 67, é o Encontro de Críticos, Realizadores e Técnicos, em cuja realização Alves Costa, uma vez mais, teve um papel decisivo. Eis o que ele escreveu então, no respectivo programa: «Três anos depois da "Semana do Porto" estão longe da solução ideal os problemas do cinema português. Muita coisa se passou, entretanto. Alguma coisa mudou. Mas a incerteza e a debilidade não foram debeladas. Muita coisa haverá que rever. Outros caminhos haverá que abrir. Projectos haverá que levar por diante». Eis aqui, neste estilo sincopado e como que inteiramente percorrido pela eterna insatisfação do criador, mais que a análise de uma situação concreta, o retrato de um estado de espírito permanente no seu autor.
Em Dezembro de 1972 publica, na revista Enquadramento, uma detalhada biografia de Manoel de Oliveira, desenvolvendo e alargando um seu trabalho anterior publicado na planificação de ANIKI-BÓBÒ, editada pelo CCP. Por esta altura inicia a sua colaboração regular em A Capital. Em 1973/74 tem um passageiro regresso à direcção do Cineclube do Porto, de que nunca deixou aliás de ser um colaborador muito próximo e influente. No curso de Cinema do Instituto das Novas Profissões, em Lisboa, assume, de 1973 a 75, a regência da cadeira de História do Cinema.
Com o derrube do regime corporativista e o advento da plena liberdade de expressão e associativa, em Abril de 1974, inicia-se um período mais favorável para a cultura portuguesa e, consequentemente, para a actividade daqueles que sempre pugnaram por ela. Em 1975, por iniciativa do Dr. Félix Ribeiro e em edição conjunta do Instituto Português de Cinema e da Cinemateca Portuguesa, Alves Costa publica o seu livro ‘Os antepassados de alguns cinemas do Porto’, conjunto de textos anteriormente publicados no Jornal de Notícias de que era colaborador regular.
1976 De 18 a 24 de Abril de 1976, Alves Costa promove e anima outro evento maior na cidade do Porto. Foram as 1.as Conversações Cinematográficas Luso-Espanholas, uma grande «cimeira» ibérica de cineastas, onde se fez o balanço e perspectiva das respectivas cinematografias nacionais, se inventariaram e se discutiram dificuldades e possibilidades de cooperação. Deste ano também é a realização do primeiro Festival de Cinema de Animacão de Espinho (CINANIMA), a que Alves Costa prestou assistência muito chegada e ao qual se manterá ligado até ao presente. No ano seguinte presidirá ao seu Júri Internacional. Por esta altura inicia a sua colaboração regular em O Jomal, que junta à colaboração regular e assídua que já vinha dando desde 1970 ao Jornal de Notícias. Mais tarde colabora no JL - Jornal de Letras Artes e Idelas.
1977 Outra das grandes iniciativas pessoais de Alves Costa teve lugar no ano de 1977, prolongando-se pelo seguinte. Tratou-se do projecto do animação cinematográfica do Museu Nacional Soares dos Reis. Foi um gesto audaz que transformou o severo espaço do Palácio das Carrancas num ponto de encontro e de animação cultural bastante frequentado pela juventude de então. Muitos ciclos de cinema aí foram realizados, sempre acompanhados de programas com informação coligida e, por vezes, por palestras ao vivo do próprio Alves Costa. Às suas mãos aí se constitui e mantém uma pequena filmoteca que se torna o embrião de um dos seus velhos sonhos: a Cinemateca do Porto. A governos sucessivos enviará petições, projectos de instalação, planos de funcionamento. Baldadamente, até hoje.
É em Novembro de 1977 que se realiza o 9.º Encontro Nacional de Cineclubes, em Espinho. Alves Costa participou neste encontro onde se constituiu a actual Federação Portuguesa de Cineclubes, de que foi fundador. Ainda neste ano publica, nas edições Afrontamento, o seu livro ‘Memória do Cinema’. No ano seguinte publicará, na «Biblioteca Breve» do Instituto Português de Cultura, o volume ‘Breve História do Cinema Português’.
Em quase toda a sua actividade cultural, quer no Cineclube do Porto quer na Árvore, foi sempre, incansável e entusiasticamente acompanhado por sua esposa Maria Helena Alves Costa, falecida em 14 de Outubro de 1977, cuja actividade pioneira em Portugal (e não só) no terreno do cinema para crianças mereceu um prémio - a estatueta «Venus de Barcelona» - que lhe foi atribuído na IV Convenció Cinema Infantil i Juvenil, em 1977.
Nos anos 80, Alves Costa presta um pouco mais da sua atenção ao cinema infantil e juvenil. É a sua participação no Júri do Festival Internacional de Cinema para a Infância e a Juventude de Gijón (Espanha) e, também, a sua colaboração com o homólogo festival de Tomar. Apoiou também o lançamento do Festival de Cinema do Jovem Cineasta (JUVECINE) do FAOJ/Porto, participando na sua comissão de apreciação em 1981.
1981 Verá editados, sucessivamente, pelas edições Afrontamento, ‘Eric von Stroheim, Génio Insubmisso de Hollywood» (1981) e, pela Cinemateca Portuguesa, ‘Raul de Caldevilla’ (1983) e ‘Da Lantema Mágica ao Cinematógrafo» (1986). È director da revista Cinema, da Federação Portuguesa de Cineclubes, desde o seu primeiro número, em Setembro de 1982 e prepara, actualmente, um livro que terá por título ‘A Longa Caminhada para a Invenção do Cinematógrafo’, uma sua ideia do tempo do Museu Soares dos Reis, a ser editado, em breve, pelo Cineclube do Porto.
1988…
Editorial e artigo publicados no nº 33 da revista Cineclube, novembro de 1987.
É tudo real
“O constante revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condicões sociais, a incerteza e a mobilidade eternas distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relacões fixas e enferrujadas, com o seu cortejo de vetustas ideias e concepcões, são dissolvidas, todas as novas que vão surgindo ficam velhas antes de terem um esqueleto que as suporte. Tudo o que é sólido se volatiza, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens são por fim obrigados a encarar sem ilusões a sua posicão social e as suas relacões mútuas."
Karl Marx e Friedrich Engels 'Manifesto do Partido Comunista'
A maravilhosa sociedade pós-industrial está aí, garbosa e triunfante, reverberando os seus bits e impulsos hertzianos. O gado enche os carrinhos nas grandes superfícies e procura respostas para a pergunta do ás de copas. O grande jackpot da salvacão. A SIDA é um conceito publicitário e a compaixão vende-se estampada às riscas ou de fantasia. É chegado o reino do "capital acumulado a um tal grau que se torna imagem" (Guy Debord). Da mercadoria aureolada. Direitos humanos e carne de porco enlatada. A Casa Branca é um terminal de sondagens de opinião electrónicas. Vá, carregue no botão e pulverize o general Aidid. Pode ver em directo na C.N.N.. Foi você que sorriu ou a sua sombra tridimensional? Querida, manda calar o miúdo e traz-me outra coke e batatas fritas.
A mercantilizacão das relacões humanas aproxima-se do seu estádio supremo. Automação da producão, criação de sempre novas necessidades, inscrição da obsolescência nos produtos. A classe operária de outrora está em transição para uma camada restrita de engenheiros e técnicos qualificados. Os "novos empregos" surgem no sector dos serviços (a neo-criadagem de paleta na cabeça, vendedora não da sua força de trabalho mas do seu tempo inútil e sem sentido), da persuasão ao consumo e nos aparelhos de condicionamento social e ideológico. A vida é asfixiada ao peso do trabalho morto acumulado. Voce não o vê. Ele produz os seus filmes preferidos, elege os seus politicos, contrata os seus ídolos desportivos, decreta a mobilizacão do seu país para a guerra. Controla e vigia quotidianamente o seu fluxo de adrenalina. É um Dr. Mabuse ubíquo e impessoal. Um código social secreto. A letra C.
O produto do trabalho do operário novecentista era-lhe estranho e confrontava-o como um ser hostil. O produto do trabalho no século XXI determinará a especificidade do humano. Constituirá como que uma segunda biosfera criadora das suas necessidades mais básicas e íntimas, dos seus prazeres e da sua dor, da sua festa e da sua melancolia. Determinará a sua forma de amar e fixará a agenda do dia para a sua angústia, a sua perplexidade e a sua revolta. Estaremos já bem para lá da morte de Deus e do Homem. A questão - e o foco da luta - é se viveremos numa sociedade transparente às suas próprias determinações, contemporânea de si própria, manejando conscientemente o rumo de uma aventura humana dessacralizada e ateleológica. Ou se prosseguiremos o rumo do Leviathan tecnológico, da manipulação e da opacidade social. Dos jogos de espelhos multiplicados até ao infinito e à irrisão.
1994 Publicado no nº 19-20-21 da revista ‘Última Geração’
Toda a verdade
Com o pleno funcionamento dos mecanismos da alternância de poder, a jovem democracia pluralista portuguesa dá provas de se achar firmemente consolidada. Os riscos de derrapagern são agora remotos. Edições Mortas acham que é chegada a altura de os portugueses se confrontarern com algumas das mais cruas e extremas realidades do seu recente passado totalitário. Os documentos que aqui publicamos são devastadores, pertencem a uma história das mals sombrias, do período mais negro das relações luso-estadunidenses. E todavia, são também testemunho da singeleza e do tocante desamparo de dois destinos famosos, face ao poder dessa louca e imoderada esperança que se chama, porque não dizê-lo, amor.
Estas cartas foram recentemente desclassificadas do arquivo "top AA” da C.I.A., o que nos permitiu, através de um agente infiltrado em "cunha", microfilmá-las e introduzi-las finalmente em Portugal. A história em si, porém, embora de acesso reservado, é há muito conhecida nos seus traços gerais, entre sobreviventes do círculo mais íntimo de colaboradores do ditador, altas figuras do Estado e alguns historiadores. Esbarrou até aqui, é certo, na falta de suporte documental (presume-se que a PIDE destruiu toda esta documentação na madrugada do dia 25 de Abril cle 1974) e, sobretudo, na sua injustificável mas persistente aura de tabu nacional. Franco Nogueira, José Freire Antunes e João Hall Themido, todos a passam em claro nos seus escritos sobre este período. É pois altura, repito-o, de romper decididamente com todo este medonho silêncio.
John F. Kennedy é eleito presidente dos E. U. A. a 8 de Novembro de 1960. São sobejamente conhecidas em Lisboa as suas ideias e propósitos sobre a questão colonial africana. No Palácio de S. Bento, a situação é encarada com algum alarme. Barbieri Cardoso tem uma ideia. Trata-se de uma manobra de envolvimento usando a famosa actriz norte-americana Marilyn Monroe, cujas relações de intimidade com o jovem presidente eleito são conhecidas. É de imediato codificada como operação “Tristão e Isolda". Salazar hesita. Há testemunhos que registaram mesmo este seu comentário sarcástico: "A pátria pode esperar de mim mil sacrifícios, mas porque infaustos sucessos contemporâneos me caberia a mim, para complemento à gesta heróica dos nossos maiores, ter que pintar as unhas dos pés a essa notória mulher de mau porte".
A resistência do ditador foi porém vencida, no que terá sido decisiva a intervenção amical mas firme do cardeal Cerejeira. São destacados agentes para Hollywood com instruções precisas. A mansão da actriz é vigiada minuciosamente. Mais tarde, com o envio das primeiras flores, será posta sob escuta. A primeira carta de Salazar é enviada a 11 de Janeiro de 1961. Foi redigida por Pedro Homem de Mello (a quem foram dadas explicações muito sumárias) e manuscrita pelo próprio punho do ditador.
A resposta de Marilyn tardou. A actriz passava quase todo o seu tempo no deserto do Nevada, onde filmava “The Misfits" com John Huston. O seu casamento com Arthur Miller soçobrava e era um período de grande instabilidade emocional para ela. O tom da missiva não era muito encorajador, mas em Lisboa foi decidido prosseguir. A segunda resposta de Marilyn foi já considerada muito mais animadora. A verdade, porém, é que a operação da inteligência portuguesa fora detectada e o correio da loura estava já a ser produzido sob as instruções do pessaal de Langley-Virgínia.
O levantamento armado da U.P.A. em Angola alastrava, com alguma repercussão na imprensa internacional. O embaixador norte-americano em Lisboa pede uma audiência a Salazar. Expõe-lhe então directivas emanadas da Casa Branca, exigindo a fixação imediata de um calendário para a independência daquela colónia. Salazar, apoplético, manda o embaixador retirar-se. Afronta inaudita. Doravante, “tristão e isolda" prosseguiria com a plena e empenhada colaboração do primeiro-ministro português.
Sucede que, paralelamente a estes eventos políticos, e à própria actividade dos dois aparatos de espionagem, desenvolvia-se nos dois protagonistas epistolares o lento processo de amadurecimento de uma poderosa afinidade electiva. Salazar entemece-se profundamente pela feminilidade grácil e inocente da actriz, a ponto de esquecer perigosamente Angola e as Lajes. Marilyn sonha com o abraço protector daquele homern severo e asceta.
Em Portugal, é o pânico quando se percebe que a visita de Marilyn, o filme em Lisboa e o eventual casamento com o ditador são encarados por este com toda a naturalidade, mesmo com uma particular disposição eufórica. O austero estadista foi visto a cantarolar "Love me do” em pleno conselho de ministros. O seu motorista, sr. Beltrão Azevedo, viu-o tocar campaínhas e fugir agilmente pelas ruas. A sua govemanta Maria mandou rezar uma novena para desendemoninhar seu amo.
Dá-se então o infeliz incidente das Baamas, onde morre um casal de agentes portugueses, baleado por homens-rãs desconhecidos. Marilyn tem de renunciar à sua programada visita à Europa, pela interposição de obstáculos não totalmente esclarecidos. A 5 de Agosto de 1962 ocorre a sua morte misteriosa. A ter-se tratado, como pensamos, de um homicídio, as principais suspeitas recaern obviamente sobre o F.B.I., a mando do attomey general Bobby Kennedy, mas há também testemunhos fiáveis que nos garantem ter visto, no dia seguinte, o pide Óscar Cardoso a dar de comer aos orangotangos no Zoo de San Diego.
Seja(m) qual(is) for(em), porém, a(s) razão(ões) de Estado subjacente(s) a este brutal desfecho, nada nos impedirá hoje de chorar amargamente a extremosa mãe da pátria que perdemos, assim como o ensejo para que a abertura democrática se tivesse processado sob outros signos. Em vez do FEDER, quem sabe se "diamonds are a girl's best friends”. Quanto a António Salazar, como é sabido, não mais recuperou totalmente o equilíbrio.
À ironia perversa da História juntou-se pois, neste complexo episódio, a sempre imprevisível natureza humana, com a sua tocante fragilidade. E é por isso que estes documentos, pertencendo por direito próprio aos anais da espionagem e da política internacional do século XX, são simultaneamente uma obra maior da literatura amorosa, onde ombreiam facilmente com Catulo, Shakespeare ou as cartas de Mariana Alcoforado. Por estas razões, e só por elas, nos abalançamos a esta edição, que sabemos sujeita a variados e perigosos equívocos. Do sensacionalismo malsão dos media ao voyeurismo doentio das massas, vários serão os chacais à espreita de semelhante presa. Quando toda a poeira assentar, porém, estamos convictos, restará um documento humano ímpar e, também, a obra literária de fino recorte e elevada valia que (seja-nos permitida a fraqueza) justamente nos orgulhará por aqui a termos revelado em primeira mão.
2 de Fevereiro de 1996 Prefácio ao livro ‘Correspondência amorosa de Salazar e Marilyn Monroe’ de A. Dasilva O.
Canto Nono
O Antunes é um homem alto, extrema e rigidamente magro. De modos reservados, por norma só abre a boca para pequenas frases de uma judiciosidade lapidar e definitiva. Nessa manhã, foi ele o motorista destacado para me levar à procura de uns processos poeirentos e bichosos no Tribunal Administrativo do Círculo. Atravessamos o Douro. A viagem prolongou-se devido a um trânsito infernal. Eu estava com uma disposição sociável. Na sequência da conversa, disse-lhe que era natural de Moçambique.
- Moçambique?! Estive lá na guerra. Nem queira saber o que por lá passei. - Quero, sim. Esteve no mato? Participou em operações especiais? - Sim, sim…
E o Antunes foi sendo sugado, com uma força patentemente irresistível, pelo vórtice negro de um túnel no tempo.
Foi em 67. Nós éramos muito parolitos, sabe. Eu vim de Vinhais e estava a fazer tropa em Vila Real, à espera de ser mobilizado. E um dia lá veio o papel. Tive de me apresentar em Lisboa e fui logo para o ‘Cunene’. Ninguém se despediu de mim. Durante trinta dias andei no navio, a desfazer-se. Aquilo cheirava a vómito, mijo, suor e lixo dos corpos. Andávamos lá apertados uns contra os outros, como gado mesmo. Cheguei lá, não vi nenhuma cidade. Fomos logo de jipe numa viagem de 1000 quilómetros. Ao fim vimos uns fogos e pensamos que era festa a dar as boas-vindas. Pois. Era mas é real morteirada de 122 mm. Havia gritos, maldições e soldados mortos mesmo ali ao lado.
- Vai pr’a casa português. A tua namorada está a foder com o oficial lá na tua terra, português.
Os pretos dali eram uns turras lixados. Levamos muita porrada, também porque não conhecíamos aquilo. Os gajos eram capazes de andar 300 quilómetros para montar uma emboscada e voltar a pé, com os despojos e os feridos, três ou quatro dias sem comer nem beber. Tinham melhores armas que nós, médicos, livros, organização lá deles. Passados uns dias começamos a ver soldados nossos mortos à beira do caminho, com a pissa cortada e metida na boca. E um letreiro “Vai para casa português!”
Estive no mato treze meses seguidos. À espera, em patrulha, a lutar. Só víamos as caras dos companheiros e do inimigo. Estávamos sempre cheios de fome. Só latas, cheias de óleo. Começamos a perder peças do uniforme, a rasgar-se tudo. As unhas cresciam e a barba, cabelo. A malta sem se lavar. Muitos homens morreram mesmo ao meu lado. Só num encontro que tivemos, contamos mais de cem corpos. Uma mina, uma vez, deu cabo do meu jipe e atirou-me para cima de uma árvore. Havia gajos nossos que queimavam tudo, matavam e cortavam à faca, cabeças, mamas, atiravam granadas aos putos. E era sempre ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta. Toma preto, filho duma grande puta!
Por esta altura, pensei eu, estaria talvez o Meq, aquele idoso criado dos meus pais, a dar-me banho na bacia de lata. Eu era um menino sorridente, sempre com perguntas novas. As mãos gretadas do velho negro lavavam pacientemente as pregas rosadas do meu corpo. Meq era o mais excelente e dedicado dos criados. Excepto às segundas-feiras, quando nunca aparecia ao serviço. Aos domingos à noite, invariavelmente, bebia e dançava no batuque da sua aldeia até cair no chão inconsciente. Vá-se lá saber porquê. Seria a ferida viva de um apelo nostálgico. Ou talvez quisesse simplesmente esquecer, por uns momentos, a sua vida de mainato, ao serviço do conquistador branco, de calção de caqui, mais as suas crianças de questões inquietantes.
O Antunes foi finalmente retirado da sua missão de combate. Durante duas semanas esteve a descansar numa estância tropical paradisíaca. Não faz nenhuma ideia onde se situava. Belíssimos pôr-do-sol, cerveja e camarões à discrição, fruta, fascinantes mulheres negras.
"Ali, com mil refrescos e manjares, Com vinhos odoríferos e rosas, Em cristalinos paços singulares, Formosos leitos, e elas mais formosas; Enfim, com mil deleites não vulgares, Os esperam as ninfas amorosas, De amor feridas, para lhe entregarem Quanto delas os olhos cobiçarem."
E logo estava já a ser embarcado de volta, novamente no ‘Cunene’. Lisboa, adeus até ao meu regresso. No quartel da sua unidade, o sargento perguntou-lhe pela roupa interior, cinto, escova de dentes. As invectivas tornavam-se cada vez mais violentas. Até que um oficial, ali de passagem por acaso, resolveu a questão com um gesto magnânimo. No dia seguinte estava cá fora, à civil, em direcção a casa. Um adeus às armas português. Sem uma palavra, um gesto. Como se nada de anormal se tivesse passado. A gadanha da morte passou ali rente, uma e outra vez, cortando uma vida em duas extensões inconfundíveis.
Era então assim que fazia a guerra o Estado Novo de Suas Dinossáuricas Excelentíssimas. Raptava a juventude da terra, empurrando-a com um gesto furtivo e soez para uma morte longínqua ao serviço do Império. Aos que escapavam, pontapé no cu e bico calado. O Antunes faz ainda hoje tratamento psiquiátrico. Toma a sua medicação, discretamente, com método e paciência. Entretanto, Moçambique ficou sendo sempre, para ele... uma terra de sonho.
2000
Em Comum
Em Wall Street as expectativas crescem. Há fusões de grandes conglomerados e mais despedimentos massivos em perspectiva. As armadilhas da liquidez. Grandes aluviões de dinheiro – fictício, esbulhado, prometido - cachoam enlouquecidos, como manadas de bisontes em pânico. Flexibilidade, polivalência, just in time. Os ritmos aceleram para os sobreviventes da empregabilidade. Os nervos crispam-se no esforço. A TV vomita as suas obscenidades quotidianas. A terra está seca. Os peitos das mães acusam silenciosamente. Torrentes de humanidade “excedentária” afluem continuamente às megapólis de lata. Erguem-se novamente as cabeleiras rubras da guerra. De todos os cantos do mundo se levanta um mesmo clamor de revolta.
‘O Comuneiro’ pretende ser um pequeno laboratório de pesquisa na busca de um propósito articulado nesta revolta, dentro do mundo da língua portuguesa. Para isso, serve-se dos instrumentos da crítica ao universo do capital forjados há mais de cem anos e temperados desde então em milhões de lutas, grandes e pequenas, certas e equivocadas. Trabalho necessário, mais-valia, D-M-D’. Como do sangue, suor e fezes das grandes multidões laboriosas se foram amassando as riquezas acumuladas nas mãos dos poucos, reproduzindo-se o ciclo incessantemente com uma regularidade cega e brutal. Até que a rotativa da valorização entra em panne mortal. O velho red doctor, nas insónias do Soho, viu tão bem e tão longe que só hoje começamos a compreendê-lo verdadeiramente. Ou só hoje as duras esquinas do real parecem obstinar-se a preencher e cumprir fielmente os seus conceitos.
Que um outro mundo é possível, ninguém o duvida. Menos que todos os ideólogos estipendiados para o negar, que são as únicas vozes autorizadas no novo Leviatã totalitário da “globalização”. Mas os futuros possíveis arrancam do que é presente, do que se compreende a si próprio como movimento e razão. O nosso desígnio é pois tornar esse movimento e essa razão presentes a si próprios. Para que, de entre os miasmas em decomposição do mundo mercantil (e seu bailado de fetiches), se ergam as novas vozes prontas a reclamar e fazer sua a própria vida. Em comum. Saltando as cercas. Rasgando a mãos juntas os velhos protocolos da exclusão e do enclausuramento proprietário.
1.9.2005 Apresentação da revista eletrónica 'O Comuneiro'
Porque hoje é domingo!
Um dos encantos da personalidade de Guilherme Figueiredo, como certamente muitos de vocês aqui reconhecem, é o seu caráter paradoxal, avesso a convenções e conveniências. Escolheu ele para apresentar publicamente o seu primeiro livro de poemas, a pior pessoa possível, e pela pior das razões: uma amizade antiga, com partilha de “factos, quotidianos e utopias”, na sua própria expressão.
Conheci o Guilherme em Coimbra, onde ele era dirigente estudantil no começo da década de 1980. Fomos companheiros de lutas e sonhos, nessa excessividade de sermos jovens de que falou Eugénio de Andrade. A primeira dessas lutas foi uma ocupação do vetustíssimo Instituto Jurídico, que para a nossa geração foi como que uma recriação do assalto ao clube dos lentes de 1920, conhecido por Tomada da Bastilha. O Guilherme foi a alma dessa luta com a sua palavra franca, entusiástica, amável e otimista. Foi também o seu condutor, que, com uma ousadia sempre prudente, levou-a até uma improvável vitória. Foi a nossa hora do lenço encarnado ao peito. Tinha eu então dezanove anos e, como disse Rimbaud, não se é sério então. Depois, sim, para desgraça nossa. Mas essa chama imprevidente e longínqua nunca mais se apaga verdadeiramente na nossa vida. Quando ainda hoje me lembro do Guilherme, a imagem dele que primeiro me ocorre é relativa a esta nossa aventura pueril.
Fui companheiro do Guilherme em muitas outras aventuras estudantis e também em vários empreendimentos culturais, de que destaco aqui apenas a redação da revista Vértice e a direção do Cineclube do Porto.
Guilherme Figueiredo, nas várias vertentes da sua vida – profissional, cívica, cultural e artística - provou ser um daqueles raros seres de verdadeira eleição, que tornam apesar de tudo possível a vida nas nossas cidades. Cumpre, ao seu modo, o ideal humanista traçado por Bento de Jesus Caraça na sua famosa conferência sobre a cultura integral do indivíduo. E de uma forma ainda mais inesperada, para mim, consegue provar que é possível, hoje em dia, conduzir uma carreira de sucesso e reconhecimento público a partir da sua própria integridade, mantendo-se um homem livre.
O Guilherme - ou o seu editor - podiam facilmente ter convidado um académico, jornalista ou crítico literário de nomeada para estar aqui no meu presente lugar, falando-vos deste livro que temos nas mãos e que alguns de vocês já conhecem. Muitos deles aceitariam de bom grado e aqui vos fariam uma exegese de subido proveito inteletual, colocando algum princípio de ordem neste caleidoscópio sensual e imagético, sobrepondo afinal uma matriz narrativa à experiência poética do autor.
Eu próprio, com a parca educação literária que tenho, poderia alinhavar aqui alguns conceitos e pistas de leitura, em busca de assentimento, tangência ou sintonia inteletual com outros leitores. Teríamos aqui uma cerimónia de partilha diegética e de alguma lisonja mútua, que certamente não deixaria de nos gratificar a todos, porque o terreno de partida é suficientemente rico para isso.
Decidi, porém, fazer algo de radicalmente diferente e abrir com uma simples exclamação: como é bela a vida!
Quanto a gotícula primordial rebentou na manhã do mundo, nada o previra. Uma luz cruel atravessou subitamente os caminhos de sílica que éramos nós próprios. Poeira do acaso e da revolta. O ser e o não ser se digladiam, se compenetram. Aquilo que tanto esperamos doía na semente lançada, de geração em geração, incumprida como um remorso. Mas era finalmente domingo. Os ramos acenam na soleira das casas. Os sinos repicam com uma alegria tranquila e benévola. A mãe nos avisa brandamente – Não corras, não sues, não respires desordenadamente. Hoje irás cumprir os sinais que te ensejam.
De tudo aquilo com que me fiz permaneço outro. Não li os avisos mas as consequências não se seguiram como foram pressagiadas. A lua serena no seu enigma. Veneza espelhada a fogo. Convolutas rotações sem comum medida. Na flor do mar, na cumeada de rebentamento do acaso, a imensidão do ser repousou suavemente sobre os nossos corpos. Busco-me no instante mas já aí não sou presente a mim próprio. O anel está seguro no bico da águia. Risos e assomos de proximidade cedem, como papel de cenário. É a hora de nos transcendermos, no âmago da nossa pobreza. Porfiadamente na rota da imanência, esgotando todas as possibilidades.
4.6.2014 Apresentação pública de um livro de poemas de Guilherme Figueiredo
O meu tio Horácio
Nasceu por volta de 1915 numa aldeia do concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra. O pai era um médio proprietário. Zangou-se com ele e fugiu de casa, para não mais voltar, ainda muito jovem. Foi para Lisboa onde vagueou sem abrigo durante algum tempo. Passou fome e grandes necessidades, durante vários anos, até conseguir um emprego na marinha mercante, em 1939 ou 1940 (estava a minha mãe na 4ª classe). Esteve embarcadiço durante praticamente toda a II Guerra Mundial. E continuou depois, durante toda a sua vida, até aos anos 1970, nomeadamente no paquete Vera Cruz, onde acompanhou muitas levas de soldados portugueses para as guerras coloniais.
Era um homem bem parecido, muito alegre e com um dom musical muito raro. Como homem já maduro começou a ficar um tanto gordito. Tocava acordeão, piano, saxofone e outros instrumentos ainda. Terá mesmo gravado um disco nos Estados Unidos. Contava histórias com grande animação e fazia amizades com uma facilidade espantosa. Animava grandes rodas de homens que se juntavam à sua volta. Depois de o ouvir cinco minutos ficavas bem disposto para o resto do dia.
A estória dele que tenho para contar aqui, não é nada alegre.
O jovem Horácio estava em viajem de regresso dos Estados Unidos, num navio mercante português, quando este foi abordado por um submarino alemão, à noite, em alto mar. Provavelmente isto ter-se-á passado antes dos E.U.A. entrarem na guerra.
Os alemães deram ordem para que o navio fosse completamente abandonado por toda a tripulação. Toda a gente teve de embarcar nos botes de salvação. Os botes balançavam terrivelmente no mar, junto ao costado do navio, manobrados pelos remadores. E era por escadas de corda que os tripulantes tinham de descer até eles. As escadas de corda terminavam alguns metros acima da linha de água (e dos botes), pelo que os tripulantes tinham de se atirar literalmente para os braços dos que os esperavam em baixo. Estes tentavam aparar a sua queda e, simultaneamente, equilibrar a embarcação o melhor possível.
O meu tio manobrava um dos botes. O mar estava muito agitado, nessa noite atlântica. O bote afastava-se muito do costado do navio e tinha de ser trazido de volta, com esforço e prudência, para não se esmagar contra ele.
O médico de bordo, já longe do vigor da juventude, desceu até ao fundo da escada de corda, mas não foi possível convencê-lo a atirar-se para o bote. De cada vez que o bote retomava contacto com o costado do navio, ouviam-.se os gritos:
- Sotôr, atire-se agora, que a gente agarra-o.
- Atire-se sotôr, por amor de deus.
Repetiu-se a cena seis ou sete vezes. Mas o médico timorato não foi capaz. Permaneceu agarrado com unhas e dentes à corda da escada até que, por exaustão, teve de a largar. Caiu ao mar numa altura em que o bote estava longe e nunca mais pôde ser encontrado.
Os alemães revistaram longamente o navio e, não encontrando nada do que temiam (ou desconfiavam), permitiram aos desgraçados portugueses que reembarcassem e seguissem a sua viagem. Sem o médico de bordo.
7.9.2014
Um atentado há cem anos
O meu ilustre antepassado João José de Freitas tem agora um compreensivo artigo biográfico na Wikipedia de língua portuguesa. O autor é anónimo, naturalmente, e não faço a mínima ideia de quem seja. Nota-se que é uma pessoa com alguma formação em história contemporânea. Uma crónica de Rui Tavares no Público chamou-me a atenção para este artigo, que passo a reproduzir na íntegra:
João José de Freitas (Parambos, Carrazeda de Ansiães, 28 de maio de 1873 — Estação da Barquinha, Entroncamento, 17 de maio de 1915) foi um advogado, professor e histórico político republicano, primeiro Governador Civil do Distrito de Bragança nomeado pela República, deputado e membro do Senado do Congresso da República.
Foi seviciado e agonizou até à morte com um tiro de carabina na localidade da Barquinha, perto do Entroncamento, depois de ter tentado assassinar João Chagas na carruagem do comboio que transportava este dirigente republicano do Porto para Lisboa, e que fora indigitado na véspera chefe do governo na sequência da Revolta de 14 de Maio de 1915.
*
João José de Freitas nasceu a 28 de Maio de 1873 no lugar de Misquel, freguesia de Parambos, concelho de Carrazeda de Ansiães, filho de Manuel José de Freitas e de Carlota da Cunha Almeida. Foi irmão de António Luís de Freitas, também governador civil de Bragança.
Fez os seus estudos liceais na cidade do Porto, ingressando depois na Universidade de Coimbra onde em 1895 concluiu, com distinção, o curso de Direito.
Durante o seu tempo de estudante foi um dos elementos da falange académica republicana, tendo participado ativamente na Revolta de 31 de Janeiro no Porto.
Terminado o curso, iniciou a sua vida profissional como advogado nos auditórios do Porto e lecionista em colégios da mesma cidade, mas pretendeu dedicar se ao ensino e para isso concorreu por várias vezes à docência no ensino secundário e superior.
Logo em 1896 concorreu ao grupo liceal de Geografia e História, ficando classificado em terceiro lugar entre vinte e dois concorrentes, mas não foi despachado, aparentemente devido às suas ideias republicanas.
Em 1898 concorreu para a cadeira de Economia Política e Legislação das Obras Públicas e Minas da Academia Politécnica do Porto. Apresentou-se então a concurso com uma dissertação intitulada A crise monetária e a circulação fiduciária em Portugal, que depois publicou. Apesar de ficar classificado em primeiro lugar em mérito absoluto, foi preterido a favor de Bento Carqueja (1), de novo aparentemente devido às suas opiniões republicanas.
Sentindo-se injustamente tratado pelo poder monárquico, decidiu seguir a carreira de advogado nas colónias, fixando-se em Luanda, onde abriu banca. Não tendo o êxito que pretendia, partiu para a ilha de São Tomé, onde abriu banca de advogado. Ali encontrou o político republicano António José de Almeida, com o qual estabeleceu estrita amizade e colaboração.
Depois de uma permanência de cerca de seis anos em São Tomé, regressou a Portugal em 1905. No ano seguinte foi finalmente provido, por decreto de 9 de fevereiro de 1906, como professor efetivo do Liceu Central de Braga e candidatou-se nas eleições gerais daquele ano a deputado pelos círculos Lisboa e Bragança, integrado nas listas do Partido Republicano Português, mas não conseguiu ser eleito. Entretanto, viu-se impossibilitado de trabalhar durante dois anos e meio devido a uma doença tropical que contraíra em África. Apenas em novembro de 1909 retomou as funções de professor, então já no Liceu Rodrigues de Freitas, do Porto, onde fora entretanto colocado (2).
Nas eleições gerais de 1910 voltou a candidatar-se a deputado nas listas do PRP, novamente sem sucesso, mas sendo um republicano com créditos firmados, na sequência da implantação da República Portuguesa, ocorrida a 5 de Outubro daquele ano, João José de Freitas foi nomeado pelo Governo Provisório da República Portuguesa para o cargo de governador civil do Distrito de Bragança, que assumiu de imediato.
No ano seguinte foi eleito deputado pelo círculo de Braga e a 9 de junho de 1911 deixou o Governo Civil de Bragança para ocupar o respetivo lugar na Assembleia Nacional Constituinte. Foi substituído em Bragança pelo seu irmão, António Luís de Freitas, ao tempo magistrado em Torre de Moncorvo.
Na sequência da entrada em vigor da Constituição Portuguesa de 1911, João José de Freitas foi eleito senador no Congresso da República, pelo Partido Republicano Português. No Senado revelou-se um orador aguerrido, por vezes violento, protagonizando momentos de grande tensão naquela câmara. Quando surgiram as divisões no seio do republicanismo português aderiu à tendência evolucionista, sendo na fase final da primeira legislatura um dos mais acérrimos apoiantes do governo de Pimenta de Castro (3).
"Para certos Republicanos a República tem sido um pé-de-cabra com que vêm aumentando os seus valores" (4).
Em 1915 ainda exercia as funções de senador quando, na sequência da Revolta de 14 de Maio de 1915 decidiu eliminar João Chagas, então indigitado para substituir o general Pimenta de Castro na presidência do Governo. Na estação da Barquinha, nos arredores do Entroncamento, na noite de 16 para 17 de maio entrou na carruagem onde viajava o potencial chefe do novo governo acompanhado pela esposa e desferiu cinco tiros de pistola, três dos quais atingiram João Chagas de raspão na cabeça e arrancaram-lhe um olho (5). O senador transmontano foi, entretanto, dominado pelo Dr. Paulo José Falcão que viajava com Chagas. Entregue à Guarda Nacional Republicana, que entretanto acorrera, João de Freitas, ainda tentou fugir e pegar, de novo, na pistola. Mas acabou por ser atacado por populares, sendo abatido pela GNR com um tiro de carabina (6). Segundo o periódico evolucionista A Vanguarda do dia imediato, o linchamento de João José de Freitas foi um lento martírio, já que até fel lhe deram a beber antes de o matarem (7).
Um facto que provavelmente ajuda a explicar o atentado radica-se no então já distante ano de 1911, quando António Luís de Freitas, magistrado e irmão de João José de Freitas, era governador civil de Bragança e João Chagas era Ministro do Interior. Quando em outubro daquele ano se deu a primeira incursão monárquica liderada por Paiva Couceiro, João Chagas demitiu António Luís de Freitas, o que foi considerado injusto e afrontoso pelo irmão. Esta disputa entre homens que se conheciam de há muito poderá ter contribuído para desencadear o atentado.
Na sua atividade política, João José de Freitas foi colaborador assíduo de diversos jornais republicanos, ente os quais O Mundo e A Luta (editados em Lisboa), A Resistência (de Coimbra) e A República do Norte (do Porto). Deixou dispersa nesses e noutros periódicos uma extensa obra doutrinária e panfletária. Deixou também publicadas duas monografias: A crise monetária e a circulação fiduciária em Portugal (Porto, 1898) e A revisão da Lei da Separação do Estado das Igrejas (Porto, 1913). Notas
(1) Prefeitos de Trás-os-Montes e Governadores Civis do Distrito de Bragança (1833-2005).
(2) A transferência definitiva apenas ocorreu por decreto de 14 de Abril de 1911.
(3) Raul Brandão, Memórias, volume III, pp. 72-79. Lisboa: Seara Nova, 1933.
(4) "Boletim Parlamentar" de 11 de Junho de 1913.
(5) Sobre o atentado, João Chagas escreveria: Recebi três tiros dos cinco que despejou sobre mim, de surpresa, estando eu sentado ao lado de minha mulher, num compartimento de primeira classe. Em resultado desta agressão, perdi o olho direito. (…) Dez dias, creio eu, estive num quarto do hospital de São José. Minha mulher não me abandonou um minuto. Durante dez dias não dormiu. Nos meus curtos sonos senti sempre a sua mão na minha e nunca pronunciei o seu querido nome que a sombra do seu rosto não se projectasse sobre o meu. Quando os meus médicos, já tranquilizados, começaram a desaparecer, foi ela que os substituiu, quem fez o penso do meu braço ferido e partido, quem tratou o meu olho despedaçado. Cf: Diário de João Chagas, 1915-1917, Lisboa: Livraria Editora, 1930.
(6) Terra Quente, edição de 15 de Maio de 2002.
(7) Raul Brandão afirma: No comboio prenderam-no, agarraram-no e entregaram-no aos sicários, que o mataram lentamente, no Entroncamento. Arrancaram-lhe as barbas e torturaram-no até ao último suspiro. Por fim enterraram-no como um cão, por ordem do administrador de Torres Novas. Cf.: Raul Brandão, Memórias, volume III, pp. 72-79. Lisboa: Seara Nova, 1933.
Este homem nasceu no casarão de Misquel, de que já só conheci uma pequena parte, ainda subsistente quando passei por lá algumas férias de verão com meus pais, nos anos 1970. A maior parte da casa que conheci foi já resultado da remodelação atamancada feita pelos meus avós. A casa original era conhecida como a “casa dos três doutores”. Dois destes doutores são os referidos nesta história, João José e António Luís, ambos governadores-civis de Bragança. Este último era o irmão mais velho e tem hoje o seu próprio artigo na wikipedia. O terceiro doutor foi um outro irmão, do qual não tenho referências.
Houve ainda uma irmã mulher. Essa, naturalmente, não foi doutora e dela só rezam as crónicas familiares. Casou com um Monteiro e deu à luz a numerosa prole dos Freitas Monteiro. Um dos seus filhos foi o meu avô, Floriano de Freitas Monteiro, que acabaria por ficar com a casa e com a quinta. A propriedade estava entregue de enfiteuse a uns caseiros. Em criança, ainda assisti às divisões de alguns dos produtos da terra, dos quais cabia um terço ao senhor absentista.
João José de Freitas era obviamente um homem de bastante valor. Infelizmente, tinha também um feitio impulsivo que o deitou a perder aos 42 anos. Para além disso, foi um homem do seu tempo com todas as patologias daí resultantes. A I República nasceu sob o signo do regicídio de 1908. O capitão dos regicidas, Manuel dos Reis Buíça, era aliás um transmontano da mesma geração de Freitas, filho do pároco de Vinhais. É possível que se conhecessem pessoalmente.
Antes disso, tinha havido a humilhação do ultimato inglês de 1890. Os atores políticos desse tempo, sobretudo no campo republicano, viviam a obsessão de aparentar “coragem” a todo o custo. E a coragem era entendida como a busca incessante do confronto físico. Da força das convicções fazia-se prova arrostando com o perigo de vida. De maneira que a política era um circo incessante de bravata marialvista, com provocações e desagravos constantes. Essa disposição levar-nos-ia à desgraçada participação na Grande Guerra de 1914-18 e acabou por acarretar a ruína do próprio regime, envolvido numa espiral de violência descontrolada.
Infelizmente, há que dizer que Freitas teve alguma responsabilidade nisso tudo. O seu tresloucado atentado a João Chagas foi uma caso celebérrimo na altura e estabeleceu um certo padrão. Sobretudo porque ele não era um vulgar “terrorista”. Não, ele era um conhecidíssimo senador, académico, ex-governador civil, um ator político de primeiríssimo plano. Poderia ter sido ministro ou primeiro-ministro a qualquer altura. Resolveu transportar, por sua própria iniciativa, o debate político, da oratória inflamada para o campo raso onde impera a lei da bala. João Chagas era um velho conhecido seu, tendo sido ambos revolucionários do 31 de Janeiro de 1891 no Porto. Devia haver ali uma velha inimizade, onde se misturaram as razões políticas com os agravos pessoais. João Chagas era também um homem muito conhecido pelo seu desassombro e valentia.
Nas circunstância políticas da altura, Freitas, apoiante do Partido Evolucionista, do seu amigo António José de Almeida, estava alinhado com a ditadura do general Pimenta de Castro, resultante do “movimento das espadas” de 20-25 de janeiro de 1915. Contra esta ditadura se levantou a revolta de 14 de maio de 1915, dirigida por Álvaro de Castro, que sairia vitoriosa ao custo de cerca de 200 mortos. Entre os dois campos em confronto, Freitas estava aqui do lado mais “conservador”, digamos assim. Passados dois dias, resolveu tentar contrariar o curso dos eventos com um ato pessoal. Falhou e conheceu ali na hora uma morte atroz. Fez há pouco cem anos.
Em Fevereiro de 1916 Portugal entra na Grande Guerra, com resultados militares calamitosos na Flandres, Angola e Moçambique, para além do desastre social causado na frente interna. Portugal passou a viver em estado de guerra civil larvar desde então. A 19 de outubro de 1921, na chamada “noite sangrenta”, são assassinados, por bandos armados atuando completamente à vontade, o primeiro-ministro António Granjo e diversas outras figuras políticas de topo. Infelizmente, em muitas mentes, o anseio por alguma tranquilidade na vida quotidiana começou a sobrepor-se ao amor pela liberdade.
Tudo isto para dizer que, no contexto da época, este meu infeliz antepassado não seria assim tão monstruoso como poderá parecer aos olhos de hoje. Assim o entendeu a toponímia transmontana, atribuindo o seu nome a uma rua de Bragança e outra em Carrazeda de Ansiães. Que descanse em paz.
20.7.2015
Bushíadas I e II
I. a 5% do PIB anual o défice é insustentável o euro arrisca tornar-se no caniche do dólar sobe a calçada desce a calçada samira há uma suspeita demasiado óbvia que se partilha há muito sem choque nem pavor apenas e sempre a mesma velha náusea e nudez crua e sem arrimo a bota na nuca o frio contacto da crença com o metal local infecto em redor tudo arde nessa cruel madrugada acesa por nenhum dia.
quando todos os homens/mulheres no mercado forem cúpidos em conjunto uma ordem ideal emergirá espontaneamente em verdade vos digo que aves e sinais não partiram o rumor das horas deixa o seu trilho insano os amanhãs cantam não cantam cantam não cantam sei de três lugares onde a mortalha do desespero se abre lúbrica e majestática inexorável título vencido e irremisso sobre futuros suspensos de um pacto de quota litis entre paris e wall street sei de oliveiras arrancadas pela raiz lágrimas acres um seco remorso de mãe terra ocupada o vinho e a traição correram anos sem freio tua mão tremeu belshazzar mane thecel phares here the 3rd infantry calling it’s all over now ahmed pousa a tua arma depõe aos pés toda essa estúpida esperança.
II. queens al-quods serafad fuck fuck you osama bin laden medo aos cães os sapatos lançados no ar and a long long shot it is indeed as prédicas da morte são meu consolo inshallah instagram você vai nesse rolezinho meu amor teus dedos incendiados no teclado em minha boca impreparada sempre aquém bailou o púbis rosado da aurora mas era para londres que nós íamos sempre em busca de novos alarmes incendiados the elephant and castle mind the step now gates closing.
é pois para ti o meu canto moeda única nosso amor em desvãos cartonados acobertado nos respiradores do metro a cuspir sangue em tuas amplas aladas alavancadas avenidas em ti repousa nossa fé cansada e persistente de glórias imarcescíveis anel da aliança do meu suor com o suor genérico da humanidade oh cotovia oh brisa irónica mar inclemente em sua fabulosa iridescência tem piedade de nós agora ou na hora da nossa morte como um abatimento à dívida que trazemos em nós haircut generoso e benfazejo com risonha pancadinha em nossa cara oferta-nos enfim esse magnífico sopro da paz.
2003-2015
Fascismo e olho do cu
O portal noticioso The Intercept – Brasil publicou um interessantíssimo artigo de Mário Magalhães intitulado A estranha obsessão de Olavo de Carvalho pelo furico alheio. Aí se detalha, com incontáveis exemplos, certamente não exaustivos, como o mestre pensador da extrema direita brasileira desenvolveu o hábito recorrente – na invetiva, mas também em modo expositivo, delicadamente metafórico - do argumento ad anus. Literalmente, ele tem sempre um cu saindo da boca ou do teclado. O que nos conduz, de facto, a um dos âmagos centrais da questão do fascismo, que é aquela angústia masculina sobre como, quando e se, de todo, virá a próxima ereção. É que essa é, na verdade, apenas uma parte do problema. Porque, para o fascista, tendo a natureza horror ao vácuo e vivendo nós num mundo em fluxo constante, se tu não estás dando, vais acabar tomando. E aí vais ser aniquilado de humilhação, sugado para o infinito pelo teu próprio buraco negro.
Esta é uma angústia sexual, mas também sublimadamente social. Li aqui num jornal português declarações colhidas na rua de um brasileiro que dizia: “Mais vale cair do cavalo com Bolsonaro do que ficar a ver roubar o cavalo”. O dr. Freud aqui ia ficar muito pensativo. Esse cavalo pode ser afinal um falo. Um falo conduzido com rédea tensa, galopando contra a multidão ululante desses miseráveis enraivecidos. Parando, hesitando, girando, se empinando. Oh, horror. Será que vou morrer macho ou esses canalhas vão me sodomizar? Oh, não, não. Aí o fascista acorda empapado em suor. Ao recobrar consciência já está a ferver de ódio. Talvez por isso o ex-comunista Olavo de Carvalho vive nos E.U.A. desde 2005, pois que, alegadamente, com a chegada do PT ao poder “isto aqui está tão louco, tão louco, que se eu continuar aqui vou ficar louco também”.
O fascista não acredita na igualdade, na fraternidade, na solidariedade, nada dessas bobagens. Isso é conversa de bunda mole, de quem está já calejado e viciado em tomar nela. Por isso, quando ele faz a saudação romana a um seu par (havia um comentador na época que chamava a isso “levantar a pata”) tem de procurar sempre esticar o braço por cima do dele. Por definição, essas saudações, feitas frontalmente, nunca podem ser à mesma altura. Uma se sobrepõe necessariamente à outra. E daí está já espreitando para o ânus do rival. Este comportamento – já exaustivamente estudado em certas espécies de símios – é a razão principal porque o fascismo, a prazo, desemboca sempre em guerra. O fascismo, por essência, nega a dignidade humana ao outro e gera sempre uma situação política de desequilíbrio rumo à violência. Como dizia o Napoleão (que bem sabia do assunto), se pode fazer muita coisa com as baionetas, mas não sentarmo-nos nelas. Aqui em Portugal há um ditado que diz: “Quem tem cu, tem medo”. Quem tem medo, desenvolve essa estranha compulsão obsessiva para olhar para a ilharga.
Novembro de 2018
Macartismo de alcova
Boaventura de Sousa Santos (n. 1940) é um jurista, socio-antropólogo, politólogo e filósofo das ciências português, sobejamente conhecido em todo o mundo, em especial no mundo da língua portuguesa e por todo o continente americano. Nasceu em Coimbra, no seio de uma família dos meios populares. Uma bolsa da Fundação Gulbenkian permitiu-lhe conseguir o ingresso na histórica e elitista Faculdade de Direito da sua cidade natal. Aí se licenciou com grande distinção, em 1963. Fez uma pós-graduação em Berlim Oeste, após o que ingressou nos quadros docentes da sua faculdade, com a categoria de assistente. Doutorou-se depois na Universidade de Yale (E.U.A.), com uma tese sobre O Direito dos Oprimidos, baseada em trabalho de campo feito numa favela do Rio de Janeiro.
Foi em Yale que se radicalizou e fez a sua formação marxista, no ambiente marcado pela luta pelos direitos cívicos e de contestação à Guerra do Vietname. Por essa altura, os seus universos intelectuais deixaram de se poder compatibilizar com o tradicionalismo da sua Alma Mater, onde a ideia de pluralismo jurídico não deixaria, certamente, de causar grande escândalo. Regressado a Coimbra em 1973, foi um dos fundadores da sua Faculdade de Economia, aí tendo ensinado Sociologia. Foi fundador da Revista Crítica de Ciências Sociais, do Centro de Estudos Sociais e do Observatório Permanente da Justiça. Paralelamente, prosseguiu uma outra carreira académica, como Distinguished Legal Scholar na Universidade de Madison, Wisconsin (E.U.A.).
Boaventura criou um magistério muito peculiar que revelou um grande poder de atração sobre sucessivas gerações de estudantes, sem abdicar de tomar posições públicas, por vezes, de grande desassombro. Empenhou-se no processo do Forum Social Mundial. Intelectualmente, nunca deixou de se engajar pela libertação de todos os oprimidos, embora, para o nosso gosto, o tenha feito com recurso a tangências discutíveis com o pós-modernismo, o relativismo epistemológico, a decolonialidade e o ecletismo em geral. É, seguramente, o mais prestigiado intelectual público português da sua geração. Com as suas ideias e o dinamismo das suas iniciativas e projetos, colocou o país no mapa internacional das Ciências Sociais.
É impossível fazer um apanhado bibliográfico seu que não seja uma escolha discutível. Destacaríamos, ainda assim, títulos como Um discurso sobre as ciências (1988); Estado e Sociedade em Portugal (1974-1988) (1990); Reinventar a democracia (1998); A Crítica da Razão Indolente: Contra o Desperdício da Experiência (2000); A gramática do tempo. Para uma nova cultura política (2006); Para uma revolução democrática da justiça (2007); A Universidade no Século XXI. Para uma Universidade Nova (2009); Construindo as Epistemologias do Sul. Antologia. Vols. I e II (com Maria Paula Meneses) (2010); Portugal: Ensaio contra a autoflagelação (2011); Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade (2013); Se Deus fosse um activista dos Direitos Humanos (2013); A difícil democracia. Reinventar as esquerdas (2016); O fim do império cognitivo. A afirmação das epistemologias do sul (2018); Esquerdas do mundo, uni-vos! (2019); O futuro começa agora. Da pandemia à utopia (2020).
Entrado na sua década octogenária, na voga internacional do #MeToo, foi visado por um ajuste de contas académico que logo se tornou, com a prestimosa ajuda da comunicação social dominante, numa curiosa campanha de macartismo de alcova. Os vulcões de lama acionados pelos justiceiros não se inibiram de engolfar também, com desenvoltura, os seus colegas académicos mais próximos. A Justiça portuguesa vai agora ocupar-se do caso. Confie nela quem puder. Pela nossa parte, recusamo-nos naturalmente a silenciar ou ostracizar esta voz, sobretudo quando ela nos parece justíssima, oportuna, rigorosa e até grave. Não participamos, sequer a contrapelo, na alternância circense das aclamações e dos “cancelamentos”, própria da ultramercantilização do espaço público neste capitalismo espetacular que esperamos agonizante.
março de 2025
|
|
© 1997-2010 angelonovo@sapo.pt |